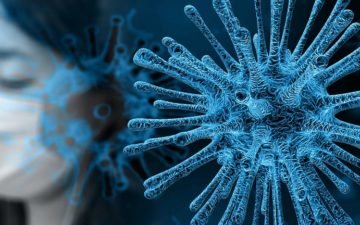O projeto Escola sem Partido está em discussão na Câmara dos Deputados e divide as opiniões dos brasileiros. O texto ganhou notoriedade durante a campanha política de Jair Bolsonaro (PSL) que se mostra favorável à implementação de uma lei, chamada por alguns parlamentares e professores como “lei da mordaça”.
As manifestações contrárias ao texto levaram docentes, entidades educacionais e movimentos sociais a criarem um manual de defesa contra a censura nas escolas e a perseguição aos docentes. A aprovação na Casa enfrenta resistência e não há data para aprovação.
O foco do projeto
A Escola sem Partido é “uma proposta de lei que torna obrigatória a fixação, em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio, de um cartaz com os deveres dos professores”, segundo descrição no site do programa.
Os defensores da Escola sem Partido alegam que “o único objetivo do programa é informar e conscientizar os estudantes sobre os direitos que correspondem àqueles deveres, a fim de que eles mesmos possam exercer a defesa desses direitos, já que dentro da sala de aula ninguém mais poderá fazer isso por eles”.
Longe de ser uma solução
De acordo com os resultados do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) referentes a 2017, em um grupo de 10 alunos do ensino médio, 7 estão nos níveis considerados insuficientes de aprendizagem nas disciplinas de português e matemática.
Uma realidade que, segundo a professora e doutora em Antropologia Social, Maria Elisa Maximo, não será resolvida se o Escola sem Partido for implementado no Brasil.
“O Escola sem Partido não contribui para a realidade do ensino brasileiro. Não é solução para a educação essa tentativa de limitar, de controlar o que se fala e a maneira como se debate certos assuntos. O texto não ajuda”, diz.
Atraso social
Ao não ter a liberdade de discutir os problemas que o Brasil enfrenta e mostrar a realidade aos alunos, levando-os a pensarem sobre determinados assuntos, o projeto Escola sem Partido estaria “impedindo a promoção de uma mudança social, como explica a professora e doutora em Ciências Sociais, Maria Elisa Máximo.
“Se hoje os professores estão discutindo determinados assuntos é porque são de importância para promover um respeito e compreensão. Com esse limite, como os docentes poderão discutir os temas relacionados as mulheres, aos povos indígenas, a inclusão social, a homossexualidade? Eu tenho cada vez mais alunos homossexuais, mais alunos negros, mais alunos com deficiência e como não vou discutir sobre isso de alguma maneira na sala de aula, se o aluno pode estar sofrendo preconceito? Há uma distorção do debate a partir do projeto. Os professores não querem convencer as meninas a serem feministas, por exemplo. Esse discurso é falacioso. O debate desses temas não vem no sentido do convencimento, mas da construção da representatividade, de construir uma sociedade mais tolerante com a adversidade”, explana.
Uma lei para poucos?
O futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez, é defensor do projeto e declarou que “quem educa é pai e mãe e a escola tem que respeitar as tradições familiares que as crianças cresceram”.
Diante dessa defesa, Maria Elisa explana sobre a possível interferência e questiona qual o tipo de família teria o ‘poder da decisão’ – um dos pontos defendidos pelo programa.
“A ponte entre a família e a escola sempre foi uma premissa da educação. Agora, essa questão de pedir a ‘permissão’ dos pais para o que se vai discutir em sala de aula é mais uma distorção do debate. Que família é essa que vai determinar o que a escola pode discutir? Se eu sou uma mãe homossexual e quero que a minha filha tenha acesso a esse debate, eu serei ouvida? Ou será apenas um determinado tipo de família que corresponde a determinado padrão que vai ser consultada?”, alerta a professora.